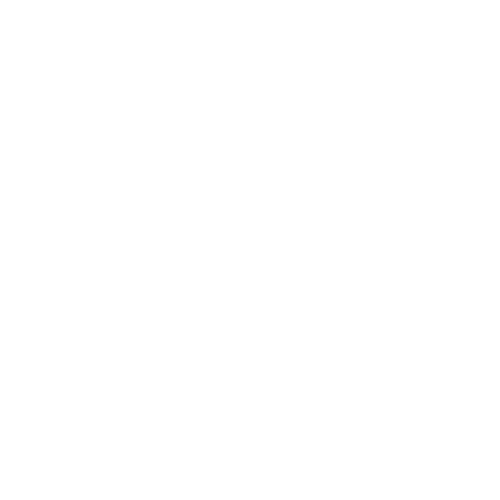<<
Eu cheguei em Belém sem saber porra nenhuma da cidade. Só queria fugir o mais longe possível de São Paulo. Fiquei horas na rodoviária olhando pra todos os nomes de cidade listados, repetindo e trocando as sílabas. Ubararaquara, Junco Grande, Mogi Horizonte. Tudo parecia que ia dar na mesma merda, no final das contas. Só mudava a ordem. Aí trocou o letreiro e apareceu Belém. Belém. Belém-Belém. Eu repeti o nome várias vezes e ele nunca ficava idiota. Veio de repente umas imagens bem bestas (e que eu já sabia na hora que eram bem bestas) de um bando de índio emplumado orgulhoso andando numa cidade enorme onde no meio duma praça grande ficava Jesus sentado, com um bando de gente esperando pra falar com ele, que nem Papai Noel de Shopping. Não é que eu propriamente achasse que Jesus tinha nascido lá, mas acho que eu vagamente também não desachava não. Eu ri pra caramba e decidi que tinha que ser lá, mesmo a passagem sendo cara pra dedéu, metade da grana que eu ainda tinha guardada dos rolo.
No ônibus dormi muito pouco, um cara do meu lado tava resfriado e ficava fungando sem parar. Sonhei com narizes enormes puxando pedras para a construção de um monumento à Coriza. Cheguei em Belém e fiquei andando o dia todo, acabei procurando o Ver-o-peso depois de ver que quase toda banca de jornal tinha postal dele. E era bonito o negócio, do lado daquele rio marrom que não tinha fim nenhum direito (a margem, que já era longe, um velho que tava sentado mexendo num emaranhado de linha me disse que nem margem era, que tinha mais rio ainda pro outro lado). Fiquei olhando o final da feira dos peixes, os tiozinho madrugador já morrendo de sono no final da tarde, quase deitando nas bancadas manchadas de sangue de peixe, as velha vendendo erva e poção pra tudo que é coisa (tinha uma pra mulher dadeira que dizia assim só: 1000 homens, quase comprei, só de onda).
Todo mundo era mais baixo que eu, quase todo mundo tinha cara de índio. Nesse dia que eu lembre eu dormi lá perto mesmo, junto duma galera que tava nuns papelão na frente duma loja amarela. A loja dizia REI DO COMÉRCIO, CALÇADOS, PLÁSTICOS, CERÂMICAS, OUTROS. Eu já fiquei viajando que ia conhecer o tal do rei do comércio no dia seguinte, que ia começar uma prodigiosa e avassaladora carreira ali mesmo, conquistaria a simpatia do Rei do Comércio a ponto de sucedê-lo daqui a vinte anos numa cerimônia gloriosa na Ópera de Belém. Fiquei lembrando dos cara nas lojas ali no centro que ficavam no microfone com voz de veludo falando pra todo mundo entrar, que tinha promoção, que tinha isso e aquilo. Mas eu acordei foi com o próprio Rei do Comércio me enxotando lá da frente com uma mangueira, me xingando de vagabundo, devia ser umas sete da manhã. Os outros que dormiram já tinham vazado. Passei o resto da manhã ali deitado debaixo duma árvore pensando no quê que eu ia virar agora. Traficar eu não queria que eu não ia rodar de novo nem fodendo, ainda mais não conhecendo era ninguém ali. Tinha que encontrar outra coisa.
Fiquei zanzando ali pelas ruas do centro apinhada de gente e de loja até que eu vi um homem mais rosa que cabeça de pica, todo estufado, com uma testa que parecia que derramava pra frente, uma camisa florida amarela ridícula gigantesca esvoaçando em volta dum corpo que já era enorme, um cabelo meio ruivo-escuro fumaçando, um sorriso abobado e uns olho esbugalhado de doido. Fiquei por muito tempo achando que ele devia ser turista e já tava pensando num papo que eu pudesse chegar chegando, falar que era guia, que eu podia mostrar pra ele a verdadeira Belém, a Belém do seu povo, a Belém autêntica. Fiquei um tempão ensaiando as cinco ou seis frases em inglês que eu achava que eu sabia até eu ver que o doido era dono da banca. E a banca dele era todo um troço, além de jornaleiro era vídeo-locadora, tinha mais fita VHS do que revista, tinha estante saindo pra fora e comendo a calçada, vendia ainda água de côco (que ele mesmo cortava num facão cujo cabo ficava caindo) e ainda tinha uma roleta esquisita atrás do balcão onde ele sorteava aluguel grátis de filme e Bis pras crianças (e que era viciada, só fui descobrir depois, só ganhava nela os clientes de quem ele gostava).
Tinha uma televisão virada de frente pro balcão, mas tava desligada. Eu fiquei vendo as costas do filmes dele por bem uma meia-hora, já quase apaixonando, até ele desembuchar.
— Égua, vai alugar alguma coisa ou vai ver o filme só nas figurinha?
— Tenho vídeo-cassete não, tio. Tava só vendo aqui os nome e as história, só.
— Esse aí que tá na tua mão é clássico. Eu até botava pra tu ver, mas se bota filme aqui junta mais desocupado que o Congresso Nacional e os freguês que compram mesmo são fresco. Tu sabe como é.
Essa frase ele terminou com um sorriso que me deu vontade de apertar a bochecha rosada e gringa dele.
— Que mal lhe pergunte, o senhor é daqui mesmo?
— Claro que sou! Não tá vendo aqui estampado na minha cara meu sangue Araweté?
Eu fiquei sorrindo besta sem entender se ele era doido. Ele não falou de um jeito irônico.
— Sou irlandês. Era irlandês. Da Irlanda. Irmã pobre da Inglaterra. Tou aqui tem tanto tempo que eu não sei mais quê que eu sou, não. Cê gosta de filme?
— Filme? Filme é minha vida, filme.
Mentira da porra. Filme pra mim nem fedia nem cheirava, era só uma forma de televisão, igual Sílvio Santos ou jornal. Música pra mim que era o tchans, na época, e mais nada.
— Eu faço uns cineclube às vezes aqui pra passar as coisa que não passam nem no Olímpia. A gente não esparra muito, porque não tem nem permissão nem direito de nada, mas se quiser ir é de graça. Amanhã tem. Meu nome é Dennis.
Fiquei dando tempo ali mesmo, depois comi um salgado numa lanchonete e fui perguntando pelo endereço que o homem tinha dado. Era um casarão mal-acabado a uns quarenta minutos a pé dali. Parecia ter uns cem anos. Achei a coisa mais bonita que eu já tinha visto na vida.
— Hoje a gente vai passar um filme muito doido, só pros fortes.
— Como sempre, meu querido, como sempre, falou uma senhorinha de cabelo pintado de vermelho escuro e camiseta do MST.
Tinha um menino índio muito simpático e educado com todo mundo que ficava passando com uma bandeja prateada com copos cheios d’água e de café. Tinha três velhas que pareciam amigas e ficavam o tempo inteiro cochichando e rindo entre si. Tinha um casal baixinho de uns cinquenta e tantos anos, ela de cabelo loiro pintado, ele inteiramente careca, que ficava se agarrando o tempo quase todo. Tinha uns três moleques com tipo meio de gótico meio de metaleiro que acumulavam num canto e deitavam a cabeça na mochila e tinha uns dois gatos pingado com tipo de professor universitário que ficavam na deles. Atrás do projetor ficava uma menina índia com cara de enfezada, duas mechas se projetando do lado das orelhas e fazendo cara feia pra todo mundo que fizesse barulho.
Eu não consegui prestar muita atenção no filme, que era muito estranho (um cara bonito chegava numa casa de família chique e aos poucos ia transando com todo mundo da família), porque ficava o tempo inteiro olhando discretamente pras pessoas em volta. Nunca tinha estado num lugar como aquele, não entendia direito como que se dava as relações ali. Eles eram todos doidos?
Tomara.
>>